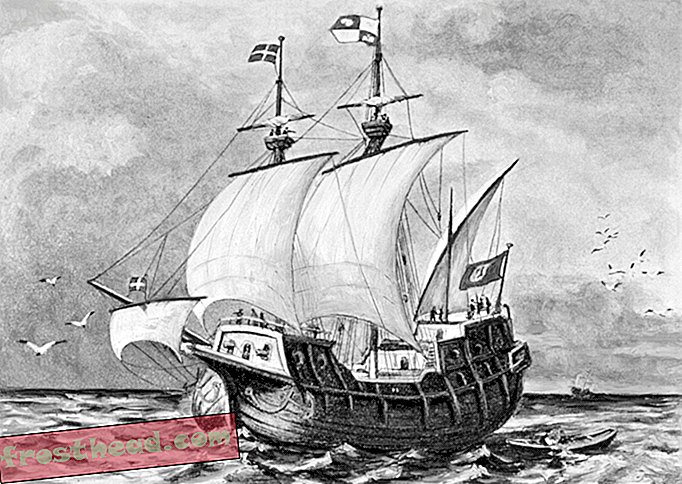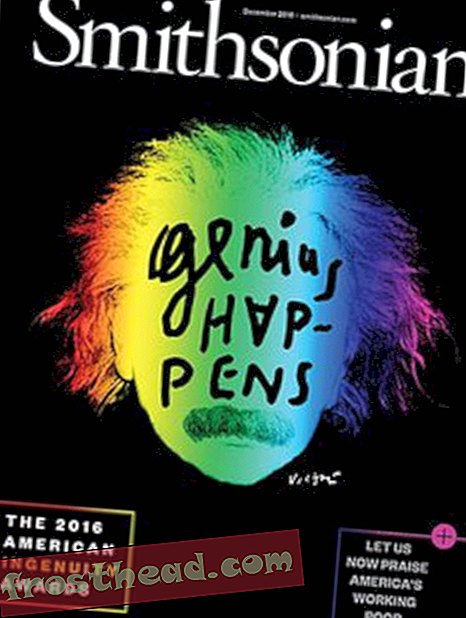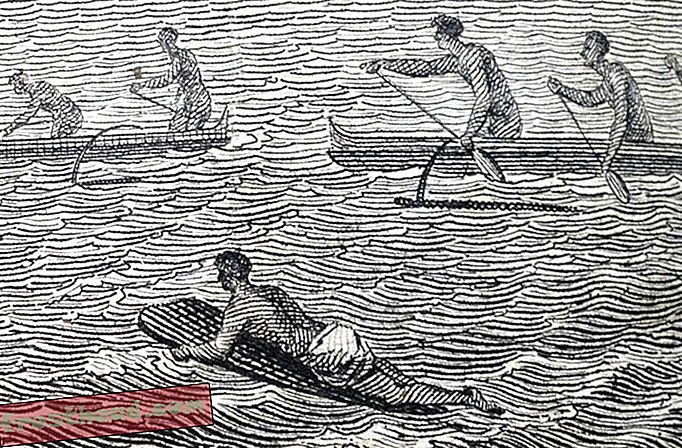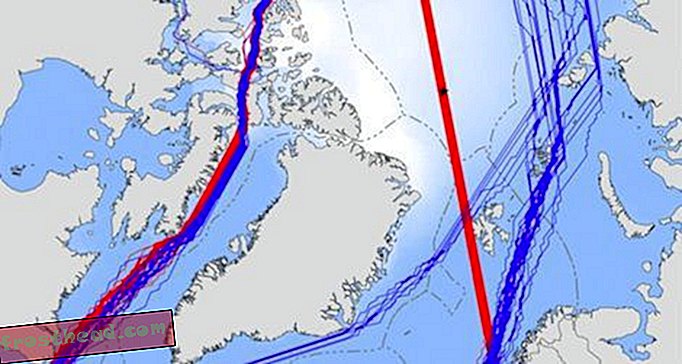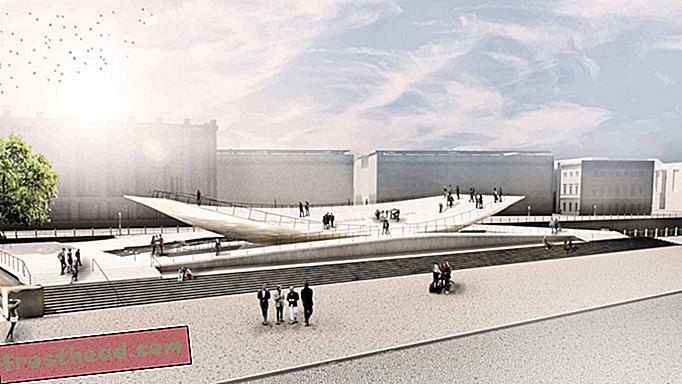Jennifer Richeson tem um dente doce. Ela gosta de jujubas, especialmente jujubas verdes. "Eu poderia comê-los ad nauseam - e eu faço", ela diz a seus alunos no curso "Stereotyping and Prejudice", que ela ensina na Northwestern University. Se ela pegasse apenas uma geleia de um pacote, provavelmente seria verde. Mas se ela pegasse um punhado, não colocaria as outras cores de volta. "Porque é rude, e porque simplesmente não parece certo. É chamado de pacote de variedades por uma razão."
Conteúdo Relacionado
- Jovens inovadores nas artes e ciências
- A última palavra
Tomando jujubas uma de cada vez, você pode facilmente deixar de perceber que você favorece uma única cor. Veja todas as suas seleções verdes de uma só vez, e é óbvio. A anedota diz respeito ao que ela diz a seus alunos: se você quer entender o preconceito, não olhe apenas para pensamentos conscientes e palavras faladas. Veja o que as pessoas sentem e fazem sem perceber.
É aí que a ação está na pesquisa de hoje sobre discriminação, e Richeson, de 35 anos, está à frente. Psicóloga social, ela persegue o mundo inconsciente das relações raciais, usando computadores para medir as diferenças de microssegundos nos tempos de reação, por exemplo, e ressonância magnética funcional (fMRI) para ver como o cérebro reage aos encontros inter-raciais. Os métodos permitem que ela examine o sentimento "eles não são como nós" - que pode ser sobre sexo, idade, religião, idioma, orientação sexual ou mesmo obesidade. Richeson trabalha nas relações raciais, diz ela, porque "a raça é particularmente marcada" para os americanos - isto é, prestamos muita atenção a ela. Mas seu verdadeiro assunto não é um tipo particular de identidade, mas a identidade em geral.
Os testes de Richeson indicam que todos têm preferências mensuráveis, muitas vezes inconscientes, para alguns grupos sociais em detrimento de outros. Por exemplo, um procedimento baseado em computador chamado Teste de Associação Implícita, ou IAT, mede a diferença de uma fração de segundo na rapidez com que as pessoas associam nomes estereotipicamente "brancos" (como "Chip") a palavras positivas como "céu". "versus a rapidez com que associam nomes" negros "(como" Jamaal ") com as mesmas palavras. A maioria dos americanos brancos, apesar de suas crenças conscientes, são mensuravelmente mais rápidos para emparelhar os nomes brancos com as palavras positivas - e isso vale até mesmo para alguns afro-americanos.
Em outras palavras, preconceito não é um traço, como calvície ou olhos castanhos, que alguns têm e outros não. Pelo contrário, é um estado de espírito ao qual ninguém está imune. Há quarenta anos, psicólogos sociais tentavam descobrir o que fazia as pessoas preconceituosas serem afetadas. Hoje em dia, diz Richeson, eles tentam entender o preconceito em si, o que faz parte do que nos motiva.
Além de não reconhecer nosso próprio preconceito, muitas vezes não estamos cientes do trabalho extra que fazemos para lidar com isso. Por exemplo, Richeson e seus colaboradores recentemente usaram um scanner de ressonância magnética funcional para capturar imagens de atividade cerebral em estudantes voluntários brancos, enquanto olhavam para fotografias de homens negros. Duas regiões cerebrais estavam excepcionalmente ativas: o córtex pré-frontal direito e o córtex cingulado anterior, ambos conhecidos por trabalharem com afinco quando as pessoas precisam avaliar e moldar seu próprio comportamento - um processo que alguns psicólogos chamam de "função executiva" e o resto de nós pode chamar de "autocontrole".
As imagens do cérebro ajudam a explicar por que os brancos não se saíram tão bem em um quebra-cabeça (palavras de classificação apareceram na tela do computador) depois de um breve encontro com um entrevistador negro do que brancos que tiveram um encontro semelhante com um entrevistador branco. Richeson e uma colega, J. Nicole Shelton, descobriram que quanto mais fortemente parecido o voluntário branco apareceu - de acordo com o Teste de Associação Implícita -, pior ele fez no quebra-cabeça depois de ser entrevistado por uma pessoa negra. (Em um estudo posterior, o mesmo se aplica a estudantes negros que interagiram com entrevistadores brancos.)
A razão, afirma Richeson, é o louvável desejo de não parecer intolerante. Diante de alguém de outra raça, a pessoa altamente preconceituosa dedica mais esforço mental ao autocontrole - a se comportar de maneira imparcial. Esse esforço, embora inconsciente, deixa o voluntário branco com menos capacidade mental para o teste.
Richeson chegou a descobrir - contraintuitivamente - que os brancos que tinham uma pontuação alta em termos de preconceito racial tendiam a obter classificações mais favoráveis dos voluntários negros da pesquisa com quem conversavam do que os brancos que eram menos tendenciosos. Ela acha que isso é provavelmente porque as pessoas com maior preconceito trabalham mais duro para conquistá-lo e, assim, se deparam com os voluntários afro-americanos como mais cuidadosos e educados.
Para Richeson, o tema da identidade e seus efeitos a fascinam desde a infância. Ela cresceu em Baltimore, onde seu pai era empresário e sua mãe era diretora da escola. Em sua escola primária predominantemente branca, ela se contentava em ser uma estudante normal, à sombra de seu irmão mais velho, David.
No ensino médio, no entanto, ela encontrou um novo conjunto de professores e um corpo discente mais diversificado, e ganhou confiança em si mesma. "Meu QI não mudou", diz Richeson. "Ainda assim, minha trajetória foi completamente diferente - de uma estudante de C a uma de A". Ela cita sua própria história como um exemplo de como a situação afeta a autopercepção, o que, por sua vez, afeta o desempenho. Ela também tinha um grupo racialmente misto de amigos, e "ter um espaço verdadeiramente diversificado, não um espaço simbólico, era incrivelmente importante", diz ela. "Todos os meus amigos, brancos e negros e judeus e asiáticos, todos nós sentimos como se pertencêssemos."
Embora suas escolas fossem 80% negras, ela descobriu que os alunos que tinham aulas avançadas com ela eram desproporcionalmente não-afro-americanos - um fato que a levou a se tornar uma ativista estudantil e política aspirante (quando não ia às aulas de balé, outra paixão de infância).
Depois do ensino médio, Richeson trocou seus sonhos de balé pela Brown University. "Mais uma vez, uma reviravolta", lembra ela: agora ela era uma das poucas alunas de minorias. Um curso na psicologia da raça, classe e gênero mudou seu foco da política para a psicologia.
Na escola de pós-graduação em Harvard, um dos membros do corpo docente de seu departamento havia escrito um livro afirmando que os negros eram, em média, menos inteligentes do que os brancos. "Eu estava tipo, 'Oh, cara, eu não pertenço aqui. Veja, até mesmo alguns dos meus professores dizem que eu não pertenço aqui'", diz ela. Ainda assim, ela estava determinada a ficar de fora. "Eu trabalhei gostei do inferno no primeiro ano."
Em seu escritório depois da aula, Richeson deixa claro que ainda está trabalhando como um inferno, planejando mais experiências e decidindo como usar uma doação da Fundação MacArthur em 2006. Sua energia é uma potente mistura da paixão de um cientista em conhecer e da paixão de um ativista em mudar o mundo. "Nós falamos nas aulas sobre Jim Crow, e meus alunos às vezes dizem 'isso foi há muito tempo.' Eu digo a eles que olhem, minha mãe não podia experimentar roupas em uma loja de departamentos de Baltimore. Esta não é uma história antiga. As pessoas que viveram isso ainda estão vivas. "
David Berreby é o autor de Us and Them: Understanding Your Tribal Mind. Ele mora no Brooklyn.