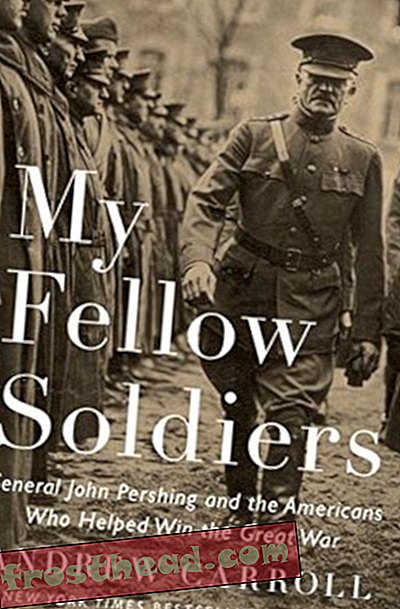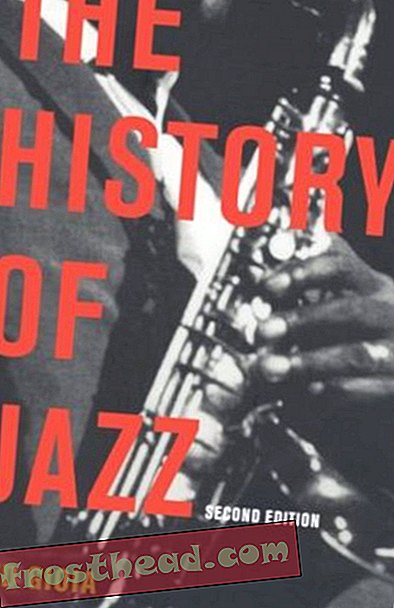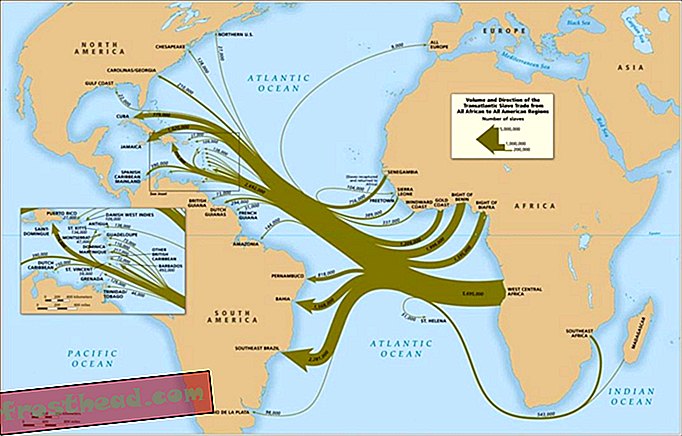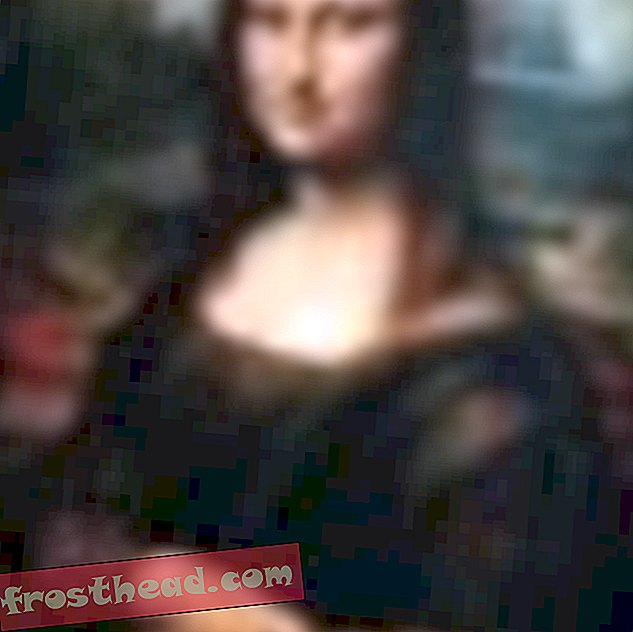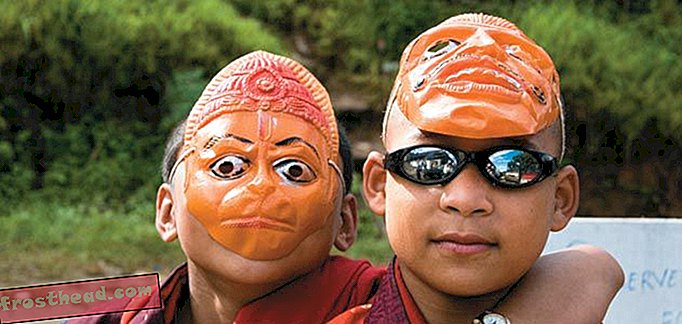Meu pai, um negro estudioso com idade suficiente para ser meu avô, cresceu no Texas enquanto ainda era um estado segregado. Assim que pôde, conseguiu-se longe o suficiente para cobrir as paredes de seu escritório com fotografias de suas viagens para destinos tão exóticos quanto a Polônia e o Mali. Até onde me lembro, ele insistia que o único lugar no mundo que realmente valesse a pena era Paris. Sendo uma criança, eu aceitei a afirmação pelo seu valor aparente - principalmente por causa do modo como seus olhos se iluminaram quando ele falou desta cidade que não era nada além de duas sílabas para mim - presumi que ele deve ter morado lá uma vez ou estar muito perto de alguém quem tinha. Mas acabou que não era esse o caso. Mais tarde, quando eu estava mais velho, e quando ele terminou de dar aulas, ele usava um moletom cinza da Université de Paris Sorbonne com letras em azul escuro, presente de sua querida aluna, que estudara no exterior. De meu pai, então, cresci com a sensação de que a capital da França era menos um lugar físico do que uma ideia revigorante que representava muitas coisas, não menos do que admiração, sofisticação e até liberdade. "Filho, você tem que ir a Paris", ele costumava me dizer, do nada, um sorriso subindo ao pensar nisso, e eu revirava os olhos porque eu tinha aspirações minhas, que raramente se aventuravam além do nosso pequena cidade de Nova Jersey. "Você vai ver", ele dizia, e ria.

Este artigo é uma seleção do nosso novo Smithsonian Journeys Travel Quarterly
ComprarE ele estava certo. Minha esposa, uma parisiense de segunda geração de Montparnasse, e eu nos mudamos do Brooklyn para um bairro levemente inclinado no 9º arrondissement, logo abaixo do brilho neon de Pigalle, em 2011. Era minha segunda vez morando na França, e eu já estava totalmente consciente da força que essa cidade exerceu ao longo dos anos, não apenas com meu pai, mas também com os corações e mentes de tantos americanos negros. Uma das primeiras coisas que notei em nosso apartamento foi que, da sala de estar virada para o leste, se eu abrisse as janelas e espicasse a Place Gustave Toudouze, eu poderia ver a 3 Rue Clauzel, onde Chez Haynes, uma instituição gastronômica e até recentemente, o mais antigo restaurante americano em Paris, servia gumbo de New Orleans, gordo e couve a seis décadas de visitantes luminosos, expatriados negros e curiosos locais. Isso me enche de nostalgia de imaginar que não há muito tempo, se eu tivesse apertado os olhos o suficiente, teria visto Louis Armstrong, Count Basie, ou até mesmo um jovem James Baldwin - talvez com o manuscrito de Another Country debaixo do braço. - atravessando o estranho exterior da cabana de madeira de Haynes para se fortalecerem com conversas familiares e com o gosto de lar.
De muitas maneiras, a trajetória de Chez Haynes, que finalmente foi fechada em 2009, reflete a mais conhecida narrativa da tradição negra de expatriados em Paris. Começa na Segunda Guerra Mundial, quando Leroy “Roughhouse” Haynes, um homem de confiança e ex-jogador de futebol, como tantos afro-americanos inicialmente estacionados na Alemanha, se dirigiu para a Cidade das Luzes assim que as lutas terminaram. Aqui ele encontrou a liberdade de amar quem ele quisesse e se casou com uma francesa chamada Gabrielle Lecarbonnier. Em 1949, os dois abriram Gabby e Haynes na Rue Manuel. Embora mais tarde ele dissesse aos jornalistas que “chitterlings e soul food” eram uma venda difícil para os franceses, o restaurante imediatamente prosperou no negócio de colegas soldados negros batendo em torno dos bares e clubes de Montmartre e Pigalle - early adopters cuja presença atraiu os escritores, jazzmen e cabides. Depois de se separar de Gabrielle, Haynes passou mais uma temporada na Alemanha antes de voltar para Paris e abrir seu empreendimento solo de mesmo nome, do outro lado da Rue des Martyrs, no local de um antigo bordel. A centralidade deste novo estabelecimento para o demimonde preto da era pode ser resumida em uma única e vívida imagem: um retrato original de Beauford Delaney de James Baldwin que Haynes pendurou casualmente acima da porta da cozinha.
Na época em que Leroy Haynes morreu, em 1986, a lendária cultura negra do pós-guerra que seu restaurante vinha decalcando e se concentrando - como a relevância da própria música jazz na vida negra - havia se dissipado. A maioria das IGs tinha ido para casa há muito tempo, onde a legislação de direitos civis estava em vigor há quase uma geração. E não era mais claro até que ponto até mesmo os artistas ainda olhavam para a Europa à maneira do autor de Native Son, Richard Wright, que disse aos entrevistadores em 1946 que ele "sentiu mais liberdade em um quarteirão de Paris do que lá". Embora a viúva portuguesa de Haynes, Maria dos Santos, mantivesse o restaurante funcionando - por mais 23 anos, infundindo o cardápio com tempero brasileiro -, funcionava mais como um mausoléu do que como qualquer parte vital da culinária. cidade contemporânea. O que eu me lembro agora, enquanto empurro o carrinho da minha filha para longe da concha vazia na Rue Clauzel, oferecendo uma saudação silenciosa aos fantasmas de uma geração anterior, é que, mesmo que tivesse chegado aqui mais cedo, a magia tinha muito tempo. desde que desapareceu.
Ou isso? Alguns anos atrás, na casa de um jovem comerciante francês que eu conhecera em Nova York, que havia voltado para Paris e desenvolvido o hábito de fazer jantares grandes e poliglotas com convidados de todas as partes, conheci o estimado homem negro do Renascimento. Saul Williams, poeta, cantor e ator de talentos consideráveis. Quando começamos a conversar sobre vinho tinto e a voz de Billie Holiday ecoando no fundo, ocorreu-me que Williams - que na época estava morando com a filha em um espaçoso apartamento perto da Gare du Nord, gravando novas músicas e atuando em francês. cinema - era de fato o artigo genuíno, uma Josephine Baker moderna ou Langston Hughes. Também me ocorreu o pensamento de que, pelo menos naquela noite, eu era sua testemunha e, portanto, parte de alguma tradição ainda existente. Foi a primeira vez que vi minha própria vida em Paris nesses termos.
 Josephine Baker se apresenta para as tropas britânicas de licença em Paris (1 de maio de 1940). (Coleção Hulton-Deutsch / Corbis)
Josephine Baker se apresenta para as tropas britânicas de licença em Paris (1 de maio de 1940). (Coleção Hulton-Deutsch / Corbis) Algum tempo depois, Saul voltou para Nova York e eu continuei a trabalhar em um romance que eu trouxera comigo do Brooklyn - trabalho solitário que não oferece muita oportunidade para se misturar -, mas o pensamento ficou preso. Paris foi de alguma forma significativa ainda uma capital da imaginação negra americana? É uma pergunta que eu recentemente comecei a tentar responder. Afinal, embora tenha havido uma explosão singular de negros aqui durante e após as duas Guerras Mundiais, o romance afro-americano com Paris remonta ainda mais longe. Começa na Louisiana antebellum, onde membros da elite mulata - em geral, terras ricas e até mesmo proprietários de escravos que foram discriminados pelo costume sulista - começaram a enviar seus filhos francófonos à França para terminar seus estudos e viver em condições de igualdade social. . Por mais bizarro que pareça, esse padrão continua até hoje com a semi-expatriação do superastro rapper Kanye West, que plantou algo mais do que simples raízes de pessoas ricas aqui, floresceu criativamente e fez sérios progressos no local. indústrias da música e da moda. (É para o amor não correspondido de West de todas as coisas de Gallic que podemos creditar a visão surreal do comercial da campanha de inspiração juvenil do candidato presidencial François Hollande definida como "Niggas em Paris", o hino exuberantemente ribaldiano de West e Jay Z.)
Certamente, uma tradição tão duradoura e secular ainda deve se manifestar de várias maneiras cotidianas que eu simplesmente não estava percebendo. Na verdade, eu sabia que isso era verdade quando vários meses antes eu me tornei amigo de Mike Ladd, um artista de hip-hop de 44 anos de idade, de Boston, pelo Bronx, que acabou sendo meu vizinho. Como eu, Ladd é de herança mestiça, mas autodefina-se como negro; ele também é casado com um parisiense, e muitas vezes é incorretamente percebido na França, seus olhos azuis marcantes levando as pessoas a confundi-lo com um berbere. Conversando com Mike e depois com meu amigo Joel Dreyfuss, o ex-editor haitiano-americano de The Root que divide tempo entre Nova York e um apartamento no 17º arrondissement, expliquei que estava procurando a cena negra de hoje, qualquer que fosse. Os dois homens me apontaram imediatamente a direção do romancista e dramaturgo Jake Lamar, formado em Harvard e que mora aqui desde 1992.
Com mais litros de Leffe no Hotel Amour, um ramo de atividade social da moda a apenas um quarteirão de distância do velho Chez Haynes (e também supostamente no espaço de um antigo bordel), Jake, que é inteligente e desarmante amigável, explica que ele primeiro Veio para Paris como um jovem escritor em uma Lyndhurst Fellowship (um precursor da concessão MacArthur "Genius") e ficou, como quase todos que você encontra do exterior nesta cidade, por amor. Ele e sua esposa, Dorli, um ator de teatro suíço, fizeram seu lar adotivo do outro lado de Montmartre. Embora sua vinda a Paris não fosse explicitamente uma escolha contra os Estados Unidos, como tinham sido os de Wright e Baldwin, "fiquei feliz em sair da América", ele admite. “Eu estava com raiva de Rodney King e também das pequenas coisas: é um alívio entrar em um elevador e ninguém está segurando a bolsa dela!”
Existe ainda uma comunidade negra autêntica em Paris? Pergunto-lhe. “Os anos 90 foram um momento de comunidade”, explica ele, “mas muitos da geração antiga já faleceu”. Não há mais ninguém, por exemplo, como Tannie Stovall, o físico próspero cujos jantares de “primeira sexta-feira”. pois “irmãos” - inspirados pelo espírito da Marcha do Milhão de Homens - tornou-se um rito de passagem para dezenas de afro-americanos que passavam ou se mudavam para Paris. Mas a geração de expatriados negros de Jake - homens agora com mais de 50 e 60 anos, muitos dos quais se conheceram no apartamento de Stovall anos atrás - continuam a tradição da melhor maneira possível.
Uma semana depois de conhecê-lo, acompanho Jake no próximo encontro improvisado do grupo, um jantar realizado em um grande loft rezde- chaussée de Paris, na Rue du Faubourg Saint-Denis. O anfitrião, um nativo de Chicago chamado Norman Powell com um sotaque autêntico, enviou um convite por e-mail que parece confirmar a avaliação de Jake: “Ei, meus irmãos… Nossas reuniões de sexta-feira tornaram-se uma coisa do passado. Certamente não é possível para ninguém hospedá-los como Tannie, mas eu estou tentando me reunir algumas vezes por ano. ”Quando eu chego, sou bem recebida cordialmente e falei que perdi o autor e Cal. O professor de Berkeley, Tyler Stovall (sem parentesco com Tannie), assim como Randy Garrett, um homem cujo nome parece trazer um sorriso ao rosto de todos quando é mencionado. Garrett, eu rapidamente entendo, é o jokesterraconteur do grupo. Originalmente de Seattle, uma vez, segundo me disseram, possuía e operava uma costela sensacional na Margem Esquerda, perto da Rue Mouffetard, e agora se dá bem como bricoleur (faz-tudo) e em seu juízo. Ainda bebendo vinho na sala há um jovem cantor recém-chegado à Europa cujo nome eu não conheço, um exilado de longa data chamado Zach Miller de Akron, Ohio, que é casado com uma francesa e dirige sua própria produtora de mídia, e Richard Allen., um elegante Harlemite de quase 70 anos com cabelo prateado escovado. Allen, que confessa que seu caso de amor com o francês começou como uma rebelião pessoal contra os espanhóis que ele tinha ouvido toda a sua vida Uptown, tem uma pequena câmera point-and-shoot com ele e, ocasionalmente, tira fotos do grupo. Ele está em Paris desde 1972, tendo, entre muitas outras coisas, trabalhado como fotógrafo de moda para Kenzo, Givenchy e Dior.
 O rapper de superstars Kanye West, visto aqui em um desfile de moda da Givenchy, plantou algo mais do que meras raízes internacionais de pessoas ricas em Paris. (KCS Presse / Splash News / Corbis)
O rapper de superstars Kanye West, visto aqui em um desfile de moda da Givenchy, plantou algo mais do que meras raízes internacionais de pessoas ricas em Paris. (KCS Presse / Splash News / Corbis) Em pouco tempo, todos nós nos mudamos para a cozinha, onde, apesar de já ter passado da hora do jantar, Norm nos serve graciosamente porções generosas de pimenta e arroz, mergulhados em molho picante e polvilhados com Comté em vez de cheddar. A conversa muda de apresentações para os protestos que estão ocorrendo em toda a América, na esteira de Ferguson e Staten Island, e em nenhum momento, estamos debatendo barulhentamente o interminável dilúvio de alegações que assolam o legado de Bill Cosby. Então, em uma tangente, Norm traz o fato de que ele descobriu recentemente o WorldStarHipHop.com e descreve o site absurdo para esta sala cheia de expatriados. "Agora, a coisa é fazer um vídeo viral de si mesmo apenas agindo como um idiota", explica ele. "Você só tem que gritar 'WorldStar!' para a câmera. ”A maioria dos caras tem estado fora dos Estados há tanto tempo, eles não sabem o que ele está falando. Eu descrevi um vídeo infame que recentemente encontrei com adolescentes de Houston fazendo filas em um shopping center para a última reedição da Air Jordan, e de repente percebi que estou chorando de tanto rir - de tanto rir, me ocorre então, eu ainda não experimentei em Paris antes.
Tannie Stovall se foi, mas se há um parisiense negro centrípeto hoje, essa distinção deve ir para Lamar, um Chester Himes moderno e bem ajustado. Como Himes, Jake é adepto de múltiplas formas literárias, de memórias à ficção literária e, mais recentemente, a um romance policial intitulado Postérité, que, como os policiais de Himes, foi publicado primeiro em francês. Mas, diferentemente de Himes - cuja passagem na França, ao lado de Baldwin e Wright Lamar - dramatizou recentemente para o palco em uma peça atrevida chamada Brothers in Exile - Lamar fala fluentemente a língua. "A esse respeito, estou mais integrado à vida francesa do que ele", esclarece ele por e-mail. E é verdade: Jake faz parte do tecido desta cidade. Ele conhece todo mundo, parece. É por sugestão dele que me descubro uma parada de metrô para o subúrbio de Bagnolet. Estou aqui para conhecer Camille Rich, ex-modelo de agência Next e ex-aluna Brown que mora em uma bela casa pintada de preto com seus três filhos pelo estilista afro-americano Earl Pickens. Tenho a sensação de ter sido transportado dentro de uma adaptação do The Royal Tenenbaums. Os filhos de Camille, Cassius, 12, Caim, 17 e Calyn, 21, revelam-se imediatamente como extraordinariamente talentosos, excêntricos e autodirigidos. Enquanto Calyn oferece um brunch de tarte aux courgettes, sopa e ovos mexidos, eu descubro que Cassius, um ventríloquo autodidata, além de ser o presidente da escola e bilíngüe em francês e inglês, está aprendendo alemão e árabe por diversão. . Enquanto isso, Cain, cuja ambição é ser animador da Pixar, está em seu quarto pintando uma tela intricada. Ele sorri calorosamente para mim, se desculpando por estar tão distraído e depois continua trabalhando. Calyn, por sua vez, além de ser uma cozinheira sólida e uma programadora de computador amadora, é uma ilustradora altamente qualificada e já publicada, com um senso de humor irônico e sutil.
Depois do almoço, eu me junto a Camille junto à lareira e vejo Rocksand, a tartaruga da África Ocidental de 14 anos da família, aproximando sua carapaça pré-histórica do chão. Ela acende um cigarro e coloca “The Bottle”, de Gil Scott-Heron, explicando que Paris sempre ocupou um lugar significativo na mitologia da família. Seu pai - um matemático da Temple University - e o tio vieram como soldados e continuaram a tocar jazz e se divertir em Pigalle. Camille, alta e bonita com óculos e um afro, cresceu na Filadélfia, onde, juntamente com suas raízes negras mais padronizadas, ela traça seus ancestrais para os Cárpatos Melungeon dos Apalaches. “Eu sempre estive tão ocupada com as crianças”, ela explica quando pergunto sobre a comunidade aqui, “que eu nunca tive tempo para mais nada.” Mas, para seu conhecimento, não há outras famílias afro-americanas como dela com crianças nativas ainda morando em Paris. Tem sido uma experiência de liberdade que ela sente que seus filhos não poderiam ter tido nos Estados Unidos. "Não há como uma criança na América de hoje pode crescer sem a idéia de raça como o núcleo de sua identidade", diz ela, enquanto em Paris, muitas vezes parece que eles foram poupados dessa camisa de força.
O subtexto dessa conversa, é claro, do qual devemos estar cientes, é também uma das grandes ironias de se viver na França como um negro americano: essa extensão tradicional da dignidade humana aos expatriados negros não é função de alguma justiça mágica. e falta de racismo inerente ao povo francês. Em vez disso, decorre em grande parte dos fatos inter-relacionados do antiamericanismo francês geral, que muitas vezes se apresenta como um reflexo contrário ao nariz das normas grosseiras norte-americanas, junto com a tendência de encontrar negros americanos - ao contrário de seus Homólogos africanos e caribenhos - em primeiro lugar como americanos e não como negros. Isso, é claro, pode apresentar seus próprios problemas para a psique (como atestam os ensaios devastadores de James Baldwin), colocando o afro-americano em Paris na estranha nova posição de testemunhar - e escapar - os maus tratos sistêmicos de outras castas inferiores na cidade.
Além disso, também não custa nada que os americanos negros encontrados em Paris ao longo dos anos tenham tendido a ser tipos criativos, aliados naturais do francês sofisticado e amante de arte. Jake Lamar colocou-me o melhor: "" Há muitas razões pelas quais ", disse ele, " mas um grande problema é o respeito que os franceses têm por artistas em geral e escritores em particular. Na América, as pessoas só se importam com escritores ricos e famosos, ao passo que na França, não importa se você é autor de best-sellers ou não. A vocação da escrita em si é respeitada. ”E assim é essa reverência padrão - por sua vez estendida aos GIs e outros que andavam por aí, mexendo no jazz ou cozinhando comida soul - que fez muito para isolar os negros americanos de as duras realidades sociopolíticas que a maioria dos grupos de imigrantes deve enfrentar. Mas nada disso é o que eu digo para Camille e seus filhos maravilhosos naquela noite. O que eu digo a eles, antes de partirem, é a verdade: eles me inspiram a querer ter mais filhos e criá-los aqui na França.
Logo antes do Natal, encontro-me com Mike Ladd, o artista de hip-hop que vive na mesma rua de mim. Nós vamos ver o aclamado grupo de rap americano Run The Jewels se apresentando no La REcyclerie, uma estação de trem desativada que ocupa espaço nos subúrbios predominantemente africanos e árabes da classe operária do 18º arrondissement. Mike é velho amigo de El-P, a metade branca de Run The Jewels, e nós vamos ao backstage para encontrar a dupla comendo Pringles com sabor de paprica e bebendo Grey Goose e refrigerantes antes do show. Eu imediatamente converso com o parceiro de El-P, Killer Mike, um homem fisicamente colossal e letrista militantemente consciente de Atlanta que uma vez assistiu a um livro que leu na Biblioteca Pública de Decatur (e me debateu vigorosamente da platéia), mas que pode ou pode não se lembrar de ter feito isso. De qualquer forma, não podemos evitar falar sobre Eric Garner, o homem de Staten Island sufocado à morte diante das câmeras por um oficial da Polícia de Nova York que acabou de ser inocentado de todas as irregularidades. “Nossas vidas não valem muito na América”, observa Killer Mike em um momento, com uma tristeza em sua voz que me surpreende.
O desempenho daquela noite é impregnado de um clima de protesto justo. A multidão parisiense incha e parece pronta para marchar e nadar todo o caminho até Ferguson, Missouri, até o final. Mike Ladd e eu nos demoramos e nos reunimos no bar com alguns outros expatriados negros, incluindo Maurice “Sayyid” Greene, um rapper de boa índole e ex-membro do grupo Antipop Consortium. Pergunto a Ladd se ele acha Paris um paraíso para os negros. “Eu sinto que a França, e o resto da Europa continental ainda mais, está atrás da curva na compreensão da diversidade”, ele responde sinceramente. "Eles eram muito bons em celebrar a diferença em pequenas quantidades - um punhado de expatriados americanos negros, um punhado de colonos - mas, como é amplamente visto agora, a França está tendo dificuldade em entender como integrar outras culturas dentro de suas próprias".
Para Sayyid, um homem de 6 pés e 10 centímetros de pele escura, de 44 anos, que passa 17 horas e meia por semana tomando aulas intensivas de francês fornecidas pelo governo, o suposto tratamento preferencial reservado aos negros americanos às vezes se mostrou ilusório. "Eu tinha acabado de ter meu filho", ele me conta sobre o tempo em que um grupo de policiais franceses enxameava e o acusou de tentar arrombar seu próprio carro. “Ele tinha três dias e eu estava no hospital com minha esposa. Eu estacionei meu carro e acabei trancando as chaves lá dentro. Eu estava com minha sogra, que na verdade é francesa, e estava tentando tirá-las. O tempo passou, um cara branco do bairro veio e me ajudou, e começou a escurecer. O cara saiu e eu ainda estava lá fora. Um policial enrolou e, de repente, havia mais seis policiais ao redor de motocicletas. Eles não acreditavam que minha sogra fosse quem eu disse que ela era. Ela tentou falar com eles. Finalmente, eles aceitaram minha identidade e passaram adiante, mas minha sogra disse: 'Uau!' Sua primeira reação foi apenas obedecer, mas sua segunda reação foi: 'Espere um minuto, por que isso está acontecendo?' ”
Paris é um paraíso para os afro-americanos, ou não é? Ele realmente já foi? “A Paris da nossa geração não é Paris; é Mumbai, é Lagos, é São Paulo ”, diz Ladd. Que é parte da razão pela qual ele mantém um estúdio de gravação em Saint-Denis, o banlieue ao norte cuja diversidade popular, em contraste com o centro de Paris, lembra por que em seus dias em Nova York ele preferiu o Bronx a Manhattan. O que fez Paris tão atraente para artistas de todos os tipos no início e meados do século 20, ele sustenta, foi a colisão de antigas tradições com o que era realmente um pensamento vanguardista. “Essa discórdia eletrizante acontece em outras cidades agora”, ele enfatiza. Isso é algo que eu também suspeitei durante minhas viagens, embora eu não tenha mais certeza de que é verdade. Não tenho certeza de que a discórdia eletrizante sobre a qual crescemos ouvindo tenha desaparecido de Paris ou se só parece assim agora, porque em todo lugar é cada vez mais o mesmo. A Internet, vôos baratos, a própria globalização da cultura negra americana através da televisão, esportes e hip-hop que tem africanos e árabes nascidos em Paris se vestindo como ratos de Nova Jersey - onde quer que seja, a verdade é que existem Poucos segredos sobraram para qualquer um de nós. Quando coloco a mesma pergunta para Sayyid, ele se torna filosófico: “Você só pode estar em um lugar de cada vez”, diz ele. “Se eu fizer 20 flexões em Nova York ou 20 flexões aqui, são as mesmas 20 flexões.”
Uma semana depois do massacre de Charlie Hebdo que dizimou a falsa sensação de serenidade e convivência étnica dessa cidade, Jake Lamar organizou uma visita aos irmãos. O aclamado escritor afro-americano e Francophile Ta-Nehisi Coates está dando uma palestra sobre “O Caso para Reparações”, sua influente matéria de capa da revista Atlantic, na American Library. Richard Allen, o expatriado afiado com a câmera, e eu chego tarde depois de uma bebida em um café nas proximidades. Nós puxamos as cadeiras atrás e encontramos Coates no meio da palestra para uma casa cheia, predominantemente branca. Na sessão de perguntas e respostas, um homem branco idoso pergunta se em Paris a Coates encontrou algum racismo. Coates hesita antes de admitir que, sim, de fato uma mulher branca uma vez se aproximou dele gritando “Quelle horreur, un nègre!” Antes de jogar um guardanapo sujo nele. Ninguém na platéia, muito menos o homem que fez a pergunta, parece saber o que dizer a respeito disso, e Coates, de maneira útil, associa o encontro à evidente loucura dessa mulher em particular e não ao funcionamento de toda a sociedade francesa.
(Mais tarde, por e-mail, eu pergunto a ele se ele se vê como parte da tradição negra aqui. Ele me diz que, embora tenha conscientemente procurado evitar ser confundido com outros escritores negros em Paris, "não sei ao certo por que Eu amo Baldwin, ADORE Baldwin ... [mas] parece claustrofóbico, como se não houvesse espaço para você ser você mesmo ... Tudo isso dito, parece-me demais exagerar a experiência de expatriados negros aqui como um mera coincidência.")
Quando Richard e eu nos reunimos com os outros irmãos e suas esposas que agora estão se preparando para sair, Jake convida Coates para tomar uma bebida conosco, mas educadamente checa cheques. Nós saímos da biblioteca e entramos na úmida Rue du Général Camou, cruzando de volta à Margem Direita pela Pont de l'Alma, a Torre Eiffel brilhando laranja sobre nossas cabeças, o Sena correndo sob nossos pés. A cidade se sente estranhamente de volta ao normal, exceto pela presença ocasional de policiais e militares da submetralhadora armados, e cartazes em preto-e-branco “Je Suis Charlie” afixados nas janelas de todos os cafés. Nosso grupo é formado por Jake e Dorli; Joel Dreyfuss e sua esposa, Veronica, uma deslumbrante mulher de olhos azuis e aparência de coco, de St. Louis; Randy Garrett, o contista-bricoleur; o cineasta Zach Miller; Richard Allen; e um professor de inglês da Columbia chamado Bob O'Meally. Nós deslizamos em uma grande mesa em um café na Avenida George V e pedimos uma rodada de bebidas. Eu imediatamente entendo o que torna Randy muito divertido quando em pouco tempo ele compra Rosie e Veronica soltando rosas do homem de Bangladesh vendendo mesa de flores para a mesa.
Todo mundo parece de bom humor, e me sinto por um momento como se estivesse em outra época. Nossas bebidas chegam. Brindamos, e eu pergunto a Richard se de fato ainda existe realmente uma Paris negra. "É de vez em quando", ele dá de ombros, tomando um gole de vinho. “Tudo depende de quem está aqui e quando.” Neste momento, Bob O'Meally está aqui, e a mesa parece mais completa. Ele organizou uma exposição das pinturas e colagens de Romare Bearden no Reid Hall, posto avançado da Universidade de Colúmbia, perto de Montparnasse. Eu digo a ele que estou animada para ver, e talvez porque esses homens mais velhos me lembrem muito dele, meus pensamentos voltam para o meu pai.
Um dos grandes enigmas da minha infância foi que quando ele finalmente teve a chance de vir aqui no início dos anos 90, depois de uma quinzena de bater na calçada e ver tudo o que podia, meu pai voltou para casa como se nada tivesse acontecido. aconteceu. Esperei e esperei que ele me enchesse de histórias sobre essa cidade mágica, mas só encontrei silêncio. Na verdade, acho que ele nunca falou euforicamente sobre Paris novamente. Eu sempre suspeitei que tinha algo a ver com a razão pela qual, nos filmes mais assustadores, a audiência nunca deveria poder olhar diretamente para o monstro. Em qualquer circunstância, a realidade, por grande que seja, só pode se dissolver diante da riqueza de nossa própria imaginação - e antes da sabedoria que carregamos dentro de nós.